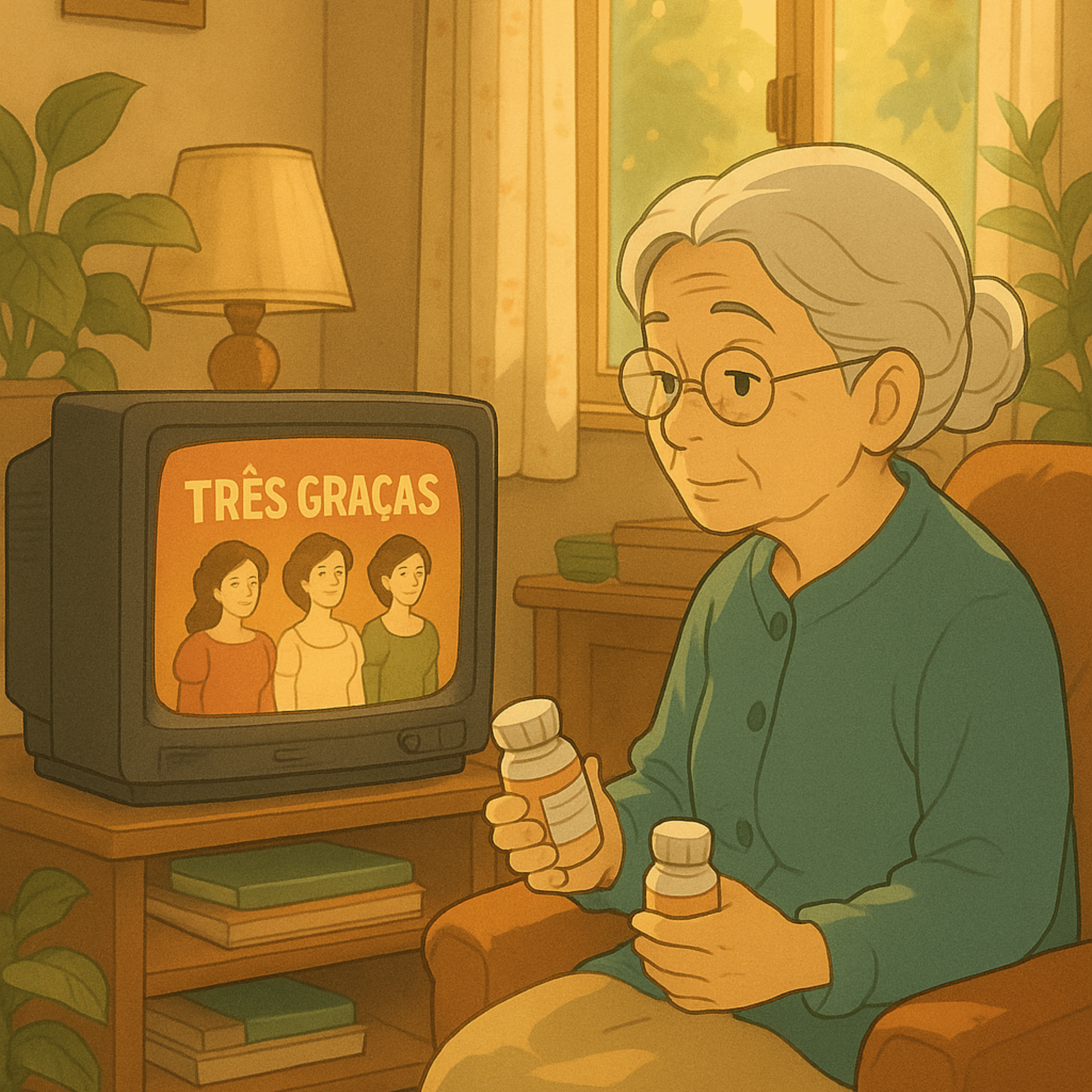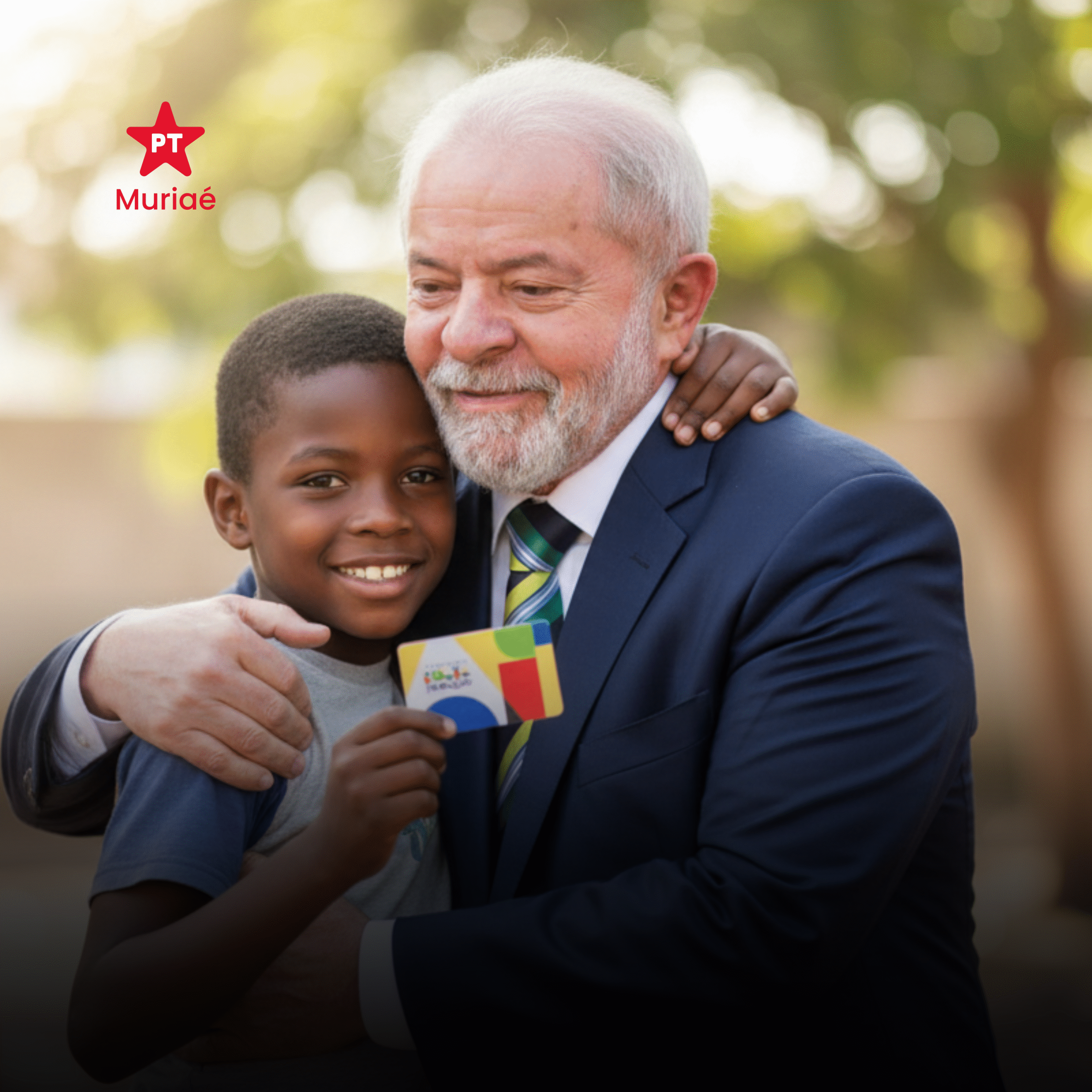Toda vez que imagens da Cracolândia circulam, o roteiro é previsível. Alguém aponta o dedo, respira fundo e diz: “é isso que a esquerda faz”. O mesmo acontece quando vídeos de Kensington, na Filadélfia, viralizam. O choque vira argumento. O sofrimento vira prova. E a conclusão vem pronta, sem esforço.
Mas talvez a pergunta correta não seja quem governa esses lugares, e sim há quanto tempo decidimos não olhar para eles de verdade.
A Cracolândia existe há décadas. Atravessou governos, ideologias, planos de “revitalização” e operações policiais cinematográficas. Se fosse apenas uma falha pontual de gestão progressista, já teria desaparecido sob a mão pesada da repressão. Não desapareceu. Mudou de lugar, de forma, de nome. Continuou ali, como um espelho incômodo.
Kensington segue a mesma lógica. Não nasceu do excesso de cuidado, mas da ausência dele. Bairros inteiros foram abandonados quando o trabalho industrial sumiu, quando a saúde mental virou corte orçamentário e quando o Estado escolheu a prisão como resposta padrão ao sofrimento social. A droga não chegou primeiro. Ela ocupou o espaço que já estava vazio.
Ainda assim, insistimos em tratar essas cenas como falhas morais ou ideológicas. É mais fácil. Culpar a esquerda é confortável porque dispensa perguntas difíceis. Dispensa falar de desigualdade, de racismo estrutural, de cidades pensadas para excluir. Dispensa admitir que o problema é mais antigo, mais profundo e muito menos conveniente.
No Brasil, a Cracolândia virou sinônimo de “perda de controle”. Na América Latina, bairros degradados são usados como prova de que políticas sociais “não funcionam”. Nos Estados Unidos, o caos urbano é apresentado como consequência direta de governos democratas. O discurso muda pouco. O alvo muda conforme a eleição.
O que quase nunca se diz é que esses países compartilham a mesma política de drogas: punitiva, seletiva e historicamente fracassada. Uma política que prende muito, cuida pouco e mata em silêncio. Uma política que não acaba com o consumo, mas decide quem vai pagar o preço dele.
Quando alguém defende redução de danos, equipes de saúde na rua ou tratamento em liberdade, a reação é imediata: dizem que é permissividade, que é conivência, que é ideologia. Curioso como cuidar sempre vira suspeito, enquanto punir nunca precisa se explicar. Curioso como a morte causada pela repressão é tratada como efeito colateral, mas a vida salva pelo cuidado vira escândalo.
Há algo profundamente revelador nisso. Não se trata apenas de política pública, mas de quais vidas consideramos recuperáveis. A guerra às drogas nunca foi só sobre drogas. Sempre foi sobre controle, sobre quem pode circular, quem pode errar e quem deve ser descartado.
A extrema direita entende isso muito bem. Por isso precisa dessas imagens. Precisa do medo, do choque, da degradação exposta. Precisa que Kensington e a Cracolândia existam como aviso: “é isso que acontece quando vocês desviam da ordem”. Sem esse inimigo interno, o discurso da força perde sentido.
O problema é que, enquanto discutimos quem culpar, pessoas seguem morrendo. Morrem de overdose, de frio, de violência, de abandono. Morrem também socialmente, quando são reduzidas a estatística, a paisagem urbana, a argumento de internet.
Talvez o maior fracasso não seja de um campo político específico, mas de uma sociedade que prefere punir a cuidar. Que aceita a exclusão como parte da paisagem. Que se escandaliza com a cena, mas não com as causas.
Cracolândia e Kensington não são provas de que a esquerda falhou. São provas de que seguimos escolhendo a resposta mais fácil, e mais cruel. Enquanto essa escolha não mudar, a cena vai continuar se repetindo. E sempre haverá alguém pronto para apontar o dedo, aliviado por não precisar olhar para si.
Os comentários não representam a opinião do Partido dos Trabalhadores de Muriaé; a responsabilidade é do autor do artigo.